A hierarquia administrativa define-se como alguma coisa parecida com um vinculo hierárquico entre um subordinado e um subordinante, vinculo este que determina a possibilidade do superior emanar ordens que têm de ser cumpridas pelo inferior, a par de alguns poderes instrumentais (controlo, fiscalização, etc.), por se considerar que o subordinante, além de estar mais perto do topo da legitimidade democrática, será uma pessoa mais qualificada que o subordinado.
O problema das ordens, nomeadamente das ordens ilegais, poderia ser facilmente resolvido numa perspectiva hierárquica, se o Direito fosse matemático - face a uma ordem ilegal, estamos perante um conflito de normas de valor diferente, sendo que o subordinado não deveria obedecer à ordem por esta carecer de validade face à lei, hierarquicamente superior. No entanto, o Direito não é Matemático, e ao bom estilo inglês mostramos os dois exemplos limite desta situação que permitem perceber o porquê desta concepção não ser exequível.
- A) O superior dá uma ordem ilegal ao subordinado. O subordinado não cumpre com base na lei. O que é uma ordem ilegal? Quem garante que o subordinado de facto sabe que a ordem é ilegal, ou está correcto a afirmá-lo? É que, lembre-se, provavelmente o superior dirá o contrário, dirá que não é ilegal, senão nem a teria dado. Ou seja, por este caminho encontramos um obstáculo intransponível, que é uma espécie de duplo veto - em caso de ordem ilegal, o subordinado poderia recusar-se a cumpri-la; por outro lado, a própria classificação da ordem como ilegal também partiria do sujeito a quem a ordem é dirigida, colocando-o numa posição de supremacia inaceitável. Temos então de partir do pressuposto que, carecendo a legalidade no caso concreto de uma avaliação desse mesmo caso (apesar de, em abstracto, o legal ser legal e o ilegal ser ilegal, sem zonas cinzentas), alguém tem de ter primazia decisória, sob pena de termos o sistema administrativo em completo malfuncionamento fruto de orientações contrárias (ou, no mínimo, potencialmente contrárias). Considera-se então, como referido acima, que prevalecerá a interpretação do superior, mesmo que a ordem seja efectivamente ilegal. No entanto, esta norma pode ser afastada. E porquê? Atente-se no exemplo B)
- B) O superior manda o subordinado matar João. Obviamente que estamos perante uma violação claríssima, aquilo que até já foi chamado de limite intuitivo. É correcto deixar ao superior o poder de o fazer? Por se acreditar que não, o legislador ditou certas excepções ao princípio da primazia do superior - em casos que constituam crime, levem a nulidade, que não sejam em matéria de serviço, que não emanem dum legítimo superior hierárquico e que não revistam a forma legal. Caso contrário, ou seja, caso não existissem estas excepções, o superior hierárquico era detentor total da actuação do subordinado, sempre, e a todos os níveis. Estas excepções, que em rigor nem o são - são imperativos do Direito vigente, consubstanciam uma àrea irredutível que salvaguarda a integridade do subordinado e também de todos aqueles que o rodeiam.
Temos assim dois princípios que mutuamente se comprimem e aconchegam dando, no nosso sistema, origem a um princípio de superioridade quase absoluta do superior, sendo o quase preenchido pelas cinco hipóteses de exclusão de dever de obediência, que, note-se, não são, ou não precisam de ser cumulativas.
Discute-se muito a existência ou não de uma legalidade interna e externa, na medida em que desde cedo se achou, e bem, necessário dar uma explicação para a subsistência de ordens ilegais, e ainda por cima subsistência permitida. Ora, é exactamente neste "ainda por cima" que reside a explicação - a ilegalidade é permitida, ou pelo menos a emissão de ordens ilegais. Por isso, as ordens não são ilegais. As ordens são ordens legais que estatuem condutas, que podem ser ilegais. É uma espécie de exclusão de ilegalidade - mas uma exclusão de base, na medida em que o acto nem pode ser considerado como ilegal, a ordem não pode ser considerada como ilegal, na medida em que cumpre preceitos legais. Pode-se dizer que estamos perante duas normas contraditórias, ou melhor, que a norma que permite a emissão de normas ilegais contradiz toda e qualquer norma que nesse momento seja visada. Pegamos aqui nos brocardos - "lex superiori derogat lex inferiori" - neste caso, referimo-nos a normas de igual valor hierárquico - daí que, se a norma violar uma norma constitucional, a norma que permite a sua emissão já perde em valor hierárquico, e acaba por recair numa das cinco excepções (ainda que o inverso não seja verdadeiro - nem todas as excepções se consubstanciam em prevenções de violação da constituição, mas em último caso, levam a que preceitos superiores à norma que permite ordens ilegais sejam esvaziados (.nem sei se é verdade...não dei exemplo.). Quanto ao "lex especiali derogat lex generale", a questão também é bastante simples - a norma que permite a emissão de ordens ilegais é uma regra excepcional. (é?)
[Falta parte da legalidade interna e externa. Go Kelsen. E, claro, a questão da total (ou não..) disponibilidade da competência decisória ]
Etiquetas: Hierarquia, Legalidade Interna
Normas permissivas e inexistência de permissões fracas e fortes
1 comentários Publicada por Pedro Azevedo em 03:36Recorde-se, para a compreensão do problema, a composição do ordenamento jurídico, com normas de proibição, de imposição e de permissão - sendo que, como parece lógico, e está demonstrado também de um modo matemático, a imposição e a proibição são duas maneiras de expressar o mesmo comando normativo, quando associadas a operadores de sinais contrários (ex: Proibição de matar = Imposição de não matar). São os chamados operadores de obrigação, categoria dentro dos operadores deônticos.
Recapitulando, a tese clássica (relativamente recente, também, na medida em que grande parte da doutrina nem fala em operadores deônticos - mas, pelo menos a nível formal, têm bastante interesse) divide os operadores deônticos (normativos) em de proibição, imposição e permissão. Agrupámos já os dois primeiros num único, os modos de obrigação, dada a sua interdefiniblidade (ver "Os argumentos da interdefinibilidade dos modos deônticos em Alf Ross - a crítica, a inexistência de permissões fortes e fracas e a completude do ordenamento em matéria de normas primárias", David Duarte, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XLIII, n. 1, 2002, pp. 257 e ss. e, obviamente, o próprio Alf Ross) O que Alf Ross dizia, pelo que me apercebi, é que existe uma diferença no ordenamento entre o que é permitido por ausência de regulamentação e o que é permitido por lei - as chamadas normas permissivas, que sempre me fizeram confusão e de escassa importância, até prova em contrário - que, de certo modo, foi o que David Duarte fez ao defender a norma original como sendo permissiva - não tenho 100% certeza que assim seja, mas, salvo melhor opinião, aceito. Existem também, supostamente, descrições na norma permissiva, no sentido de "se queres fazer isto, faz deste modo". Mas está implicito na frase um operador de obrigação, um "tens de fazer deste modo". Agora o problema é, será esta norma na realidade uma norma de obrigação, ou apenas dirá que se se afastar dos tramites da norma permissiva o destinatário estará a entrar num azona que já é regulada por outras normas? Pensamos ser a mesma questão - se for apenas um aviso, não tem relevância a não ser informativa, numa perpectiva algo kelseana, admito. Se for uma obrigação disfarçada de permissão, podemos tentar confirmá-lo: "Se queres fazer X, faz deste modo = Tens de fazer x deste modo, se quiseres fazer x = Para fazer x, tem de fazer deste modo".
O grande problema é que estamos a chegar a uma conclusão perigosa - a inexistência de normas permissivas. Ou seja, quando se fala de interdefinibilidade, percebe-se que a imposição e a proibição devam ceder perante a ideia de obrigação, que num só termo condensa e define os dois, sendo que as anteriores nomenclaturas serviam apenas para mostrar a relação entre ambos. Mas a permissão sempre foi autonomizada desses dois, e defender a interdefinibilidade como David Duarte, e a meu ver bem, defende, leva à inexistência de permissões per se, traduzindo-se estas em mais uma diferente formulação da mesma norma. Há, no entanto, ainda a questão da norma primária, que contraria esta inexistência (ainda que falemos de existência de per se com um significado específico - obviamente que existem enquanto uma de três faces dos modos deônticos)
[Falta a parte das permissões fracas e fortes]
Uma questão para pensar e retomar.
Etiquetas: Alf Ross, David Duarte, Operador deôntico, permissão
Testes, testes. Muitos testes. Muito estudo, muito pouco tempo. Muito material para escrever depois. Muitos textos sobre Obrigações, Administrativo, mas acima de tudo, Direito. As novas correntes, prometedoras.
Pedro.
Etiquetas: Adiamento
É curioso, para não dizer algo pior, atentar um pouco naquela que é a organização política de Portugal (a par de outros países). O poder legislativo é, sem dúvida, actualmente, o poder supremo de entre os três poderes tradicionais - o jurisdicional, apesar de autónomo, funda-se na lei e tem, quase sempre, nesta o seu fim, e o poder executivo actua nos carris das leis superiores, e, para outras finalidades, necessita do aval (expresso numa autorização) ou mesmo da intervenção da Assembleia da República. O que resulta daqui que seja interessante é uma constatação quase ridiculamente óbvia - é muito importante o modo (e consequentemente quem) acede a este poder e age como seu titular. Ora, os "premiados" são 230 pessoas, no sistema actual.
Continua...
Etiquetas: partidos
Aos leitores, as minhas desculpas pelo longo tempo sem mensagens.
Time is nature's way of keeping everything from happening at once.
Space is what prevents everything from happening to me.
- Attributed to John Archibald Wheeler
Etiquetas: john wheeler, tempo
Pedro Azevedo
Etiquetas: Ónus
A AR vota uma lei e, enviando-a para o PR para promulgação, este suscita a sua inconstitucionalidade (já nem falo do veto político, na medida em que aí já entra um conflito entre dois órgãos legitimamente eleitos, o PR e a AR), e pede ao TC para se pronunciar. O TC pronuncia-se pela sua inconstitucionalidade, e portanto a lei é vetada. A lei volta à AR e esta supera o veto, e a lei entra em vigor. Das três uma: ou me está a escapar algum dado muito importante e novo para mim, ou isto não faz muito sentido, ou não há opção melhor.
Não descurando a primeira opção, vou falar das outras duas, que são, obviamente, aquelas sobre as quais posso opinar.
O meu entender da Justiça é o de um homem talvez ingénuo, mas que a considera como um estado de equilibrio superior, o objectivo tendencial da Humanidade, que usa o Direito como meio para tentar chegar a esse estado não conflituoso, ou pelo menos de resolução rápida e correcta dos conflitos. Numa posição mais pró-normativismo estaria a reposição de desvios à paz jurídica.
Custa-me um bocado, no entanto, a aceitar. Parece-me que o veto por inconstitucionalidade nunca deveria ser ultrapassado. Esta é a minha posição intuitivo-dogmática. Todavia, sendo o Direito a ciência de resolução de casos concretos, sendo o direito uma ciência vivificada pelo homem e pela sua sociedade e existência, vamos atender aos argumentos e contra-argumentos.
Porque é que não deve ser aceite a superação do veto por inconstitucionalidade?
Porque a Constituição é hierarquicamente superior a qualquer norma de direito interno (vamos esquecer por agora o Direito Internacional).
Parece claro, mas o problema é que se formos por este caminho, vamos chegar a uma parede: esta superação está consagrada constitucionalmente, pelo que tudo decorre nos conformes da norma superior, a Constituição.
É uma questão complicada, a de "quem guarda o guarda". A última palavra terá de ficar sempre em alguém, e pode-se afirmar que é preferível ficar no órgãos democraticamente eleito do que nos juizes. Por outro lado, deste modo a Constituição torna-se não apenas maleável mas instável e semi-alterável, o que não abona nada em favor da sua natureza. Por outro lado, pode-se criticar a cristalização normativa caso não estivesse prevista esta possibilidade.
Continuando, o que urge aqui diferenciar são os tipos de crítica que estão a ser feitos - não é possível criticar verdadeiramente essa hipótese e o seu uso, na medida em que ela está especificamente prevista na Constituição pelo que tudo ocorre nos conformes da juridicidade do sistema. A única hipotese de a abolir especificamente seria através de costume constitucional em sentido contrário ou através de uma revisão constitucional.
O facto é que a superação da inconstitucionalidade pode ser legitimada, em certos casos, por uma maioria menor do que a necessária para uma revisão constitucional - imagine-se o seguinte caso:
Em 2001 foi feita uma revisão constitucional. Em 2002 a A.R. quer publicar uma lei que vá contra um preceito constitucional. Nos termos do artigo 284º, nº 2, da CRP teria de ter maioria de quatro quintos dos deputados para alterar a Constituição para a lei não ir contra ela. Deste modo, basta-lhe superar o veto por inconstitucionalidade que se prevê e a lei passará, ainda que inconstitucional.
Claro que não estamos esquecidos das fiscalizações sucessivas, mas ainda assim, em termos teóricos, esta possibilidade parece ser redundante em certos pontos.
[Texto ainda confuso e incompleto, necessita ser revisto.]
Continua...
Etiquetas: assembleia, constituição, inconstitucionalidade, parlamento, superação, supremacia, veto
A função administrativa é uma função secundária e está subordinada, tal como aliás o estão todas as actividades, à lei, latíssimo sensu. Não deriva daqui, no entanto, o princípio de reserva de lei - senão vejamos: tal como a conduta dos particulares está subordinada à lei, também o está a da administração pública - podemos daqui depreender que a administração é dotada da chamada autonomia privada (neste caso seria autonomia pública)? Ou seja, que pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei latu sensu? Existe apenas um critério de proibição, uma delimitação negativa da esfera de acção administrativa? Não.
A função administrativa prossegue o interesse público. Os particulares prosseguem os seus próprios interesses, sejam estes ou não coincidentes com os interesses colectivos. No Estado Liberal, o Chefe de Estado tinha o poder de fazer o que bem entendesse desde que respeitando a esfera pessoalíssima dos particulares - nomeadamente no que se refere à liberdade e à propriedade - tudo o resto era possível. Chega-se assim a este equilibrio entre o grande poder do Chefe de Estado e a esfera inviolável dos particulares na medida em que a vontade do povo é soberana, concepção emergente das teses de soberania popular rousseaunianas.
Com o passar do tempo, e com a passagem para o Estado Social, o Estado passou a intervir mais e menos no domínio dos particulares - mais porque a administração prestacional e infra estrutural emergiram com força, fazendo com que esta prosseguisse fins que outrotra lhe haviam sido vedados; menos, porque a esfera pessoalíssima alargou-se e passou a existir uma grande esfera, pessoal, inviolável pela administração. O aumento do aparelho, e o aumento também do diametro da esfera privada, juntamente com as concepções cada vez mais democráticas e de sujeição do poder político aos particulares, maxime através da oponibilidade de direitos subjectivos ao Estado, e da queda das ideias de poder absoluto dos Chefes de Estado, levou à necessidade cada vez maior de abolir espaços não regulados pela lei relativos à conduta da administração - adoptou-se um critério de delimitação positiva, a partir do qual a administração apenas podia actuar na medida em que existisse uma prévia habilitação legal para tal - num exemplo concreto, se um particular quiser construir uma estátua em memória do seu avô, pode, no exercício da autonomia privada. A administração não pode decidir per si a construção duma estátua em homenagem a alguem, ainda que o seu contributo seja irrefutavelmente valioso para a sociedade e seja mais que merecida a estátua - é necessário que a conduta seja fundada na chamda norma habilitante, que por sua vez tem de ter densificação normativa suficiente para não lograr o seu próprio intento.
Esta necessidade é bastante importante na medida em que ajuda no bloqueio a desvios na prossecução do interesse público, e torna mais fácil determinar quando é que tal acontece. Caso contrário, apenas poderia acontecer uma de duas coisas, sendo que nenhuma é actualmente aceitável - ou eram os tribunais a decidir quando existia desvio dos interesses públicos, sem terem base legal, e assim superiorizavam-se à administração e usurpavam as suas funções, ou então não existia qualquer controlo e a administração tinha carta verde para todas as actividades que quisesse desenvolver, qo eu não é aceitável num Estado de Direito.
Brevemente, espaços abertos nas leis habilitantes (quando ganhar coragem) e a relação entre a Justiça e os Tribunais superiores.
Etiquetas: preferência de lei, Reserva de lei
Começo por distinguir o dever de que falo - não se trata aqui de um dever como um dever da ordem ténica - para construir um prédio seguro devem-se construir fundações assentes em terreno não flutuante ou movediço. Nem de uma mera implicação da Natureza, expressa pelo estudo dos técnicos - pela humidade de hoje, esta noite deve chover. Ou seja, não se trata do que se deve fazer para obter a vantagem - trata-se de existir ou não um dever de fazer o que se deve fazer para obter uma vantagem. Analogamente, tratar-se-ia não do dever, da necessidade, de estudar para ter bons resultados, mas da dúvida sobre se existe um dever de ter bons resultados que resulte num dever de estudar in order to chegar aos bons resultados
Existe ou não um dever no ónus - vamos começar por um exemplo.
Suponhamos que contratei um serviço de Internet (relembre-se Obrigações, prestações duradouras periódicas) pelo qual pago 29.9 euros mensais. Foi também acordado que pagaria 5 euros por cada 100mb que consumisse, em termos de downloads, a mais do que o limite estipulado no contrato. Ora, eu nunca ultrapassei os limites - não gosto de fazer downloads e uso a Internet apenas para ler o jornal. Fico sempre muito áquem dos limites, que são muito pouco restritivos, constantes do contrato. Fui de férias no fim do mês, quando apenas faltavam 3 dias para a contagem final dos downloads efectuados, que define se tenho ou não de pagar algo extra consoante tenha ou não ultrapassado o estipulado. Tinha ainda imensos downloads por fazer. Quando voltei de férias, vi que tinha deixado o computador ligado. Não tinha nenhum browser como o Internet Explorer ligado (no meu caso, seria mais o Mozilla Firefox ou o Opera, mas é indiferente), nem nenhum programa a correr. Tudo impecável. Quando chega a conta da Internet, cobram-me 5 euros a mais por eu ter gasto 100mb a mais do que o tarifário base - o que seria justo e pagaria de bom grado (ou mau grado, é indiferente)- se eu de facto tivesse gasto esses 100mb.
Penso eu então, que sou rico, pois ganhei há uns anos oitocentos mil contos, em moeda antiga, no EuroMilhões, e hoje em dia sou um advogado de sucesso - não estou para me chatear, pago os 5 euros e acabou a questão. Dizem-me algumas pessoas que não pode ser assim - o direito procura a Justiça, pelo que eu devo reclamar e não pagar esses 5 euros. Ora, mas então impende sobre mim o ónus de provar que não gastei esses 100mb. E que chatice ter deixado o computador ligado - vai ser mais dificil de provar pela possibilidade de intrusão no meu computador por um vizinho. No entanto, eu que até tinha sucumbido a esses conselhos, perdi a vontade ao relembrar já tenho tanto que fazer, passo pouco tempo com a família, não quero estar uma tarde a recolher logs do computador, e justificar que não posso ter gasto esses MB's por ter estado fora e ainda ter bastante crédito em termos de transferências antes de sair do país, e de usar protecções anti Hacker XPTO, firewall e passwords para entrar na rede - e veja-se, sou antiquado e nem rede sem fios tenho, pelo que não há hipotese nenhuma de entrada abusiva por parte de outrem no meu computador. Metade daqueles que me aconselharam concordam comigo, mas outros, persistentes, insistem: fazes isso tudo, não pagas os 5 euros, e pedes uma indemnização à operadora pelo dinheiro que perdeste com issso tudo. Ao que eu respondo: "Eu quero é estar com a minha família, pah! Deixem lá isso - não é pelo dinheiro, não me quero é chatear nem perder tempo que podia usar para estar com a minha filha". Sobram alguns, os mais puritanos, que dizem que o dever é característico do ónus, pelo que eu devo mesmo levar a minha avante, e se quiser, pedir indeminização por danos morais. Eu, já chateado, digo "Percebam uma coisa: o juiz que decidir quanto dinheiro recebo por danos morais alguma vez vai conseguir restituir a tarde que perdi com a minha filha no jardim da Gulbenkian? Eu não quero dinheiro, eu sou rico, quero é ser feliz" - como todos sabem, há casos em que a indeminização nunca poderá cobrir, mas apenas ajudar ou compensar de forma deficitária o dano que foi feito (ex: morte por negligência). Dos poucos que sobraram, alguns aceitam a minha argumentação - outros acham que não sou um homem com bons princípios. Ao que eu digo - haverá justiça maior do que aquela que me deixa decidir o que fazer quando sofro uma entrada na minha esfera privada? Na minha bolha Actimel? Há algo mais justo, justo para a pessoa que sofreu, do que ter a protecçao do direito e servir-se dela para minorar tudo o que sofreu? E, se neste caso, a melhor maneira é deixar a operadora levar os meus 5 euros, o direito não tem de me obrigar a fazer o contrário, Porque o direito interveio neste caso para me proteger, pelo que o interesse mor é a minha protecção - claro que existem argumentos relativos à protecção da comunidade e da segunraça jurídica e a necessidade de fomentar a eficiência nas trocas de serviços, etc - mas todos esses são supletivos em relação ao meu bem estar, à justiça do caso concreto, relativa ao dano que sofri. Não devo por isso ser julgado por me ter abstido de tomar medidas, quer jurídica quer moralmente, na medida em que fazê-lo, perseguir os cinco euros, iria colidir contra outros principios mais importantes para mim, como o de realização social, educar os filhos, passar tempo com eles, etc."
Obviamente que isto é o caso extremo - há quem diga que é um poder-dever. Admito que nunca gostei muito deste termo, mas também nunca pensei muito no porquê de isso acontecer. Recordo-me de se falar muito disso a constitucional por causa das competências do Presidente da República, etc.
Gostaria de pensar que, quando a doutrina fala no ónus como a "necessidade de x para obter y", se refira não a um dever jurídico, mas à tal conduta que é necessário que se tenha para obter certa vantagem - por outras palavras, um dever de conduta para obter y, mas nunca um dever de fazer x - isso ficaria à escolha de cada um. É a diferença entre poder fazer ou não fazer algo ou ter de o fazer (imagine-se a diferença entre uma norma com um operador deôntico permissivo e outra com um operador deôntico impositivo) e a diferença entre, depois de se decidir fazer, dizer como se deve fazer (imagine-se um operador deôntico e uma estatuição que formem algo como isto: deve-se proceder de modo x y z).
Continuando na busca, em que medida poderá o "dever" ser característico do ónus? Poder-se-ia argumentar que, deste modo de destrinçar as coisas pormenorizadamente resulta que nada é característica de nada. Vamos então ver figuras alternativas para contestar isto. Linguisticamente, faculdade parecer-me-ia um bom nome - na realidade, não pode ser usado dado que a maioria da doutrina já usa a faculdade para outras hipoteses (nomeadamente, Menezes Cordeiro, conjunto de poderes). Será então um poder? Será uma permissão? Será uma possibilidade? Apesar de estes três exemplos não significarem obviamente o mesmo, parecem-me mais credíveis que um dever. Uma ressalva para a permissão, que não me parece ser um bom termo na medida em que a conduta adjacente à figura do ónus não é mais ou menos permitiva do que qualquer outra conduta considerada normal e conforme à lei, bons costumes, etc. Ou seja, é uma necessidade no sentido de "para teres isto faz aquilo" e uma possibilidade na medida em que "se quiseres isto podes fazer aquilo"
Continua...
On the structure of legal principles - Robert Alexy
0 comentários Publicada por Pedro Azevedo em 04:11Distinção entre regras e princípios.
Existem duas posições:
a) Os princípios expressam a ideia de optimização. São comandos de optimização – esta é a principal distinção entre regras e princípios
b) Esta posição é menos uniforme, pelo que importa referir apenas as principais objecções à “teoria dos princípios”. Existe, no entanto, um certo consenso de que a teoria da optimização está errada, ou pelo menos deve a sua capacidade de diferenciação entre princípios e regras está muito exagerada.
Ainda assim, relativamente à teoria dos princípios, a), importa esclarecer três teses principais:
1. A tese da optimização – os princípios são normas que ditam que algo pode ser realizado ao mais alto nível que é possível legalmente – comandos de optimização. O grau de realização dos mesmos depende dos factos como das possibilidades legais, entendidas como a posição resultante do confronto destes com princípios e regras contrárias (sendo as regras normas que apenas podem ou não ser cumpridas, sem hipóteses intermédias – implicam uma decisão de acatamento ou não – são comandos definitivos). As normas são sempre regras ou princípios.
2. Lei das colisões – é no conflito entre princípios ou entre normas que mais sobressaem as diferenças entre os dois. Se é verdade que em ambos uma aplicação em separado de normas contrárias leva a dois “dever-ser” contraditórios, também é verdade que é na maneira como se resolvem esse conflitos que se encontra a verdadeira distinção.
a) entre duas regras o conflito pode ser resolvido declarando uma delas inválida (princípios como o lex posteriori derogat lex anteriori e lex superiori derogat lex inferiori), ou introduzindo uma excepção numa delas.
b) A resolução, neste caso, não passa por declarar um dos princípios inválido nem abrir uma excepção num deles. Trata-se de procurar, consoante a ponderação do caso, aconchegar os princípios contraditórios para que um e outro sejam aplicados no seu máximo expoente – ou seja, sejam aplicados ao máximo tendo em conta a existência simultânea do outro, e o seu valor no caso concreto.
A lei de colisão define-se do seguinte modo, e com a salvaguarda de se referir a princípios que sejam aplicadas no seu expoente máximo, caso contrário, segundo Alexy são necessárias modificações. Daqui resulta que o facto de um princípio prevalecer maioritariamente sobre outro leva a que essa mesma prevalência seja a razão de ser de uma regra que dá efeito legal ao princípio considerado mais relevante. Na versa técnica, se na situação C, de colisão entre P1 e P2 P1 é considerado no seu máximo expoente, levando a um efeito pretendido E, então é válida a regra R1. Princípios como razões para a regra. E, a meu ver, provavelmente como razões para preterir as regras do princípio considerado “vencido”. P1 situa-se portanto a montante de R1 e E a jusante de R1.
3. A teoria dos princípios implica o principio da proporcionalidade, e vice-versa. (relembre-se os três elementos do principio da proporcionalidade – ser apropriado, necessário e proporcional stricto sensu.). O mesmo é dizer que se deduzem mutuamente um do outro, inclusive os seus sub princípios. Daí, quem rejeitar esta teoria rejeitará o princípio da proporcionalidade – este tese faz com que se identifiquem os dois princípios e então a reflexão derive de ponderações dos dois, alargando os seus argumentos.
Pedro Azevedo.
Etiquetas: Alexy, Princípios
Serve este post para mostrar o quão errada, a meu ver, esta caracterização é.
Este subprincípio é um nado-morto, completamente aglutinado por um princípio muito mais relevante, o princípio da hierarquia de normas, funcionando este como um pilar do nosso sistema jurídico e de qualquer sistema jurídico minimamente organizado. Não passa este subprincípio do principio da legalidade de uma concretização, especificação, restrição (o que se quiser chamar) do grande princípio de hierarquia de normas, que comporta a necessidade de estas serem respeitadas por normas inferiores e de respeitarem normas superior - princípio este expresso, aliás, pela formula lex superior derogat lex inferiori. Querer autonomizar este subprincipio é uma mera expressão de fórmulas de conteúdo formal, linguístico, que materialmente nada trazem de novo ao ordenamento - o que nada de novo traz apenas releva para aumentar a informação e contra-informação, atacando a segurança jurídica e a facilidade de apreensão intuitiva da maioria das normas. Querer que este princípio seja um dos dois pilares do princípio da legalidade é construir um princípio sobre dois subprincípios, sendo que um foi roubado a outro muito mais abrangente, e que, portanto, não serve para o suportar. Um acto da autonomia privada (contrato, por exemplo) responde tanto perante o principio de preferência de lei como um acto, um regulamento ou um contrato administrativo.
Além de tudo o que foi referido, cumpre reforçar a ideia de que este princípio é enganador na medida em que aparenta ser uma característica especial do Direito Administrativo, pelo que, a contrario sensu, não seria característica dos outros ramos do Direito. Felizmente qualquer jurista perante isto se apercebe que o raciocínio a contrariu sensu não funciona nesta caso pelo princípio estar enfermo, à priori, de um vício (latu sensu, entenda-se).
Característica séria do Direito Administrativo é o da reserva de lei, na medida em que a função administrativa, maxime face à sua tendencia lacunar, fragmentária, e mercê das flutuações político-legislativas que imprimem diferentes contornos no conceito (formal) de interesse público, necessita de uma lei que habilite a sua conduta - existem demasiados espaços livres para a conduta poder navegar por eles á vontade. E mais, a lei habilitante tem de ter efectivamente conteúdo normativo suficientemente denso para que a discricionariedade da Administração Pública não seja total, mas sem conformada dentro de certos caminhos. É este o corolário lógico da submissão da função administrativa, enquanto função secundária, à função política e, acima de tudo, legislativa.
Pedro Azevedo
Um princípio é a fuga para a abstração, necessária pela fuga para a concretização das regras. Seguindo a esteira da escola lógica, e sendo A= abstração e C= concretização, o sistema de comandos seria algo como ACACACAC (...), ou CACACACA (...). E não é irrelevante por qual deles começa. E a meu ver o caminho parte da abstração para a concretização.
Imagem 1. A relevância dos princípios num caso concreto específico. Noutro, seria totalmente diferente. Cada bolha é um princípio, mais ou menos imperativo consoante o caso, ie, mais ou menos levado à plenitude de aplicação consoante os valores em causa.
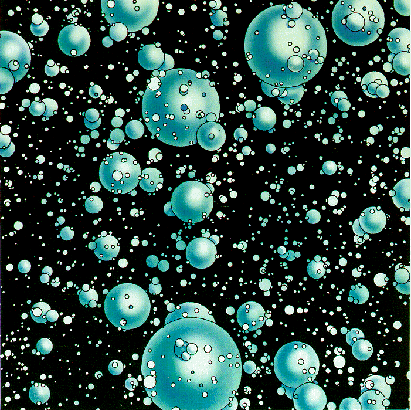
Imagem 2. Polarizarão à sua volta os princípios as regras?

Pedro Azevedo
Etiquetas: Alexy, Princípios, Regras
Autor
- Pedro Azevedo
- Todos os direitos dos textos são reservados ao autor. Mesmo.